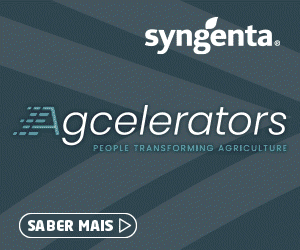Descobrir onde fica o limite entre o que urge preservar e o que pode ser mudado é um jogo de difíceis equilíbrios entre actores públicos regionais e nacionais e os agentes locais.
Douro. “Aqui, no princípio era o homem. O homem duriense”, escrevia Miguel Torga, numa entrada dos seus Diários de 19 de Agosto de 1979. Se quisermos o resumo espremido da exposição de motivos da candidatura do Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial acolhida pela UNESCO há 20 anos, ele estava já ali, naquelas curtas frases do escritor-património da região, nascido em São Martinho de Anta. Isto, sem desprimor para Fernando Bianchi de Aguiar e toda a equipa que, coordenada por este académico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, documentaram num texto bem mais extenso as inúmeras razões para a inscrição deste monumento nacional na lista daquela organização das Nações Unidas.
A arquitecta paisagista Teresa Andresen fazia parte desse dream-team de 36 sábios de diversas áreas que, como os velhos pedreiros do Douro, assentou e alinhou, a pedido da Fundação D. Afonso Henriques, os argumentos que suportavam a candidatura. E quando lhe pedimos, 20 anos depois, para escolher uma, uma característica singular desta paisagem, a resposta imediata é: “a armação do terreno”. A forma como os homens e mulheres do Douro – com a ajuda de inúmeros galegos e outra gente humilde, reza a história – criaram solo onde não havia solo, preservando ao mesmo tempo a água que, de outra forma, fugiria encosta abaixo é, descreve, o mais importante atributo da região. E um dos que correm riscos, avisa, tendo em conta a falta de mão-de-obra para o manter e as necessidades de mecanização, que convivem mal com a antiga topografia dos terrenos.
O Douro é “uma paisagem cultural evolutiva viva”, lembrava Bianchi de Aguiar nesse texto de arranque para uma aventura que já leva 20 anos. Mas descobrir onde fica o limite entre o que urge preservar e o que pode ser mudado é um jogo de difíceis equilíbrios entre actores públicos regionais e nacionais e os agentes locais: habitantes, autarcas, agricultores, produtores de vinho, pequenos uns, globais, outros, e os cada vez mais presentes actores do turismo que ora se contentam com a reinvenção dos usos das antigas quintas, ora sonham com suites, às vezes em leito de cheia, mas com vista para um rio que se tornou, a este nível, uma mina d’ouro.
No Douro produz-se vinho, azeite, amêndoa, o que a terra dá. Ninguém plantou muros e videiras para “produzir” paisagem, mas, de repente, o esforço de milhares de mãos anónimas criou, de facto, um produto novo, tornado hoje bem cultural e turístico: 250 mil hectares vertebrados pelo rio e seus afluentes que correm “esganados” entre montes, descrevia Raul Brandão; delimitados pela demarcação pombalina, apresentados ao mundo pelo mapa do Barão de Forrester e, de mais fácil absorção ainda, pelos milhões de pixéis que, a partir dos cruzeiros, ou dos seus miradouros, se espalham pelas redes sociais, como recorda o geógrafo Álvaro Domingues, em “De que é que fala quando se fala em paisagem”.
A paisagem, avisava, “é um dispositivo de inteligibilidade do real de uma extrema voracidade – é omnívoro. Alimenta-se praticamente de tudo”. E o Douro, escrevia nesse texto para um colóquio sobre paisagens do vinho, “é uma terra com excesso de identidade que, através de múltiplas narrativas, históricas e ficcionais, textuais e visuais, “se confunde cada vez mais com as representações de si próprio”. O risco, alertava, é que “a estetização demasiada da paisagem só aumenta tensões e ansiedades, insistindo na construção de identidades julgadas perpétuas, mas que, afinal, nem saíram dos tempos bíblicos, nem de tempos serenos e metabolismos lentos que hoje não existem. As paisagens não são mortórios parados, e as identidades são construções em progresso”.
O Douro nunca parou de mudar, como atestam os 300 milhões de euros de apoios públicos investidos na reconversão da vinha, só na última década. Antes da entrada na lista da UNESCO, recorda Teresa Andresen, o Projecto de Desenvolvimento Rural Integrado de Trás-os-Montes já tinha aberto a porta a alterações significativas na paisagem por parte de proprietários a braços com escassez de mão-de-obra e interessados nas possibilidades de incremento da produtividade e rendimento propiciados pela mecanização. Esses factores implicavam um alargamento dos patamares, por exemplo, e rapidamente entraram em colisão com as regras do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território que Portugal aprovou em 2003, como se comprometera com a UNESCO.
Condicionalismos
O património do Alto Douro Vinhateiro (ADV) é monitorizado e gerido de forma coordenada entre várias entidades – Cultura, Ambiente, Agricultura, Ordenamento –, a partir de Vila Real, por uma equipa da Comissão de Coordenação da Região Norte, CCDRN, liderada desde 2004 por Helena Teles. “Quando começámos, as pessoas diziam: ‘Agora é que não se faz mais nada no Douro.’ Hoje, fala-se menos em restrições e mais em condicionalismos”, garante esta engenheira civil.
Apenas um décimo da região demarcada faz parte do ADV, e está por isso protegido por legislação mais restritiva, mas, num território de propriedade pulverizada, as solicitações são mais que muitas. Apesar das possibilidades abertas pela informatização dos serviços, e pela tecnologia – que está a permitir, por exemplo a georreferenciação dos muros pré-existentes –, a equipa da CCDRN tem poucos olhos para os 25 mil hectares que tem sob sua alçada, e para acompanhar também o que se faz na zona especial de protecção envolvente. “Precisávamos de ter mais gente”, admite Helena Teles.
Helena Teles – O património enquanto aprendizagem
Helena Teles levava já década e meia de serviço público quando o Douro Património da Humanidade lhe apareceu pela frente, numa dessas curvas da vida. Estávamos em 2004, quando na Estrutura de Missão, criada na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, a engenheira civil nascida em Vila Pouca de Aguiar passou a coordenar, a partir de Vila Real, a equipa técnica que tem a seu cargo a monitorização e gestão do Alto Douro Vinhateiro. “Gosto muito do que faço. Este nosso trabalho exige um olhar mais fino e assertivo sobre as necessidades da região”, assume, de sorriso aberto, aos 58 anos.
Filha de agricultores da Lixa do Alvão, a jovem que nos anos 80 saiu do ensino secundário, em Vila Real, para fazer formação superior no Porto, acabou por regressar ao Alto Douro, no final da década. Recém-licenciada, a sua ligação à comissão começou em Torre de Moncorvo, num dos gabinetes de apoio técnico que, então, ajudavam um poder local falho de quadros a levar por diante os projectos de infra-estruturas básicas, como a água e saneamento, inexistentes em muitas localidades. Mais tarde, trabalhando já na gestão dos fundos comunitários para Trás-os-Montes e […]