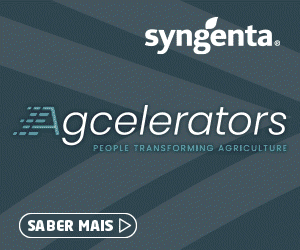25 anos passados após os primeiros estudos fundamentais sobre Economia Ecológica, Robert Constanza e Pavan Sukhdev são dois dos nomes a reter quando falamos de valorização do capital natural e dos serviços do ecossistema. Conheça neste artigo, em colaboração com Diogo Alagador, como estes dois economistas contribuíram, ainda no século XX, para uma visão da natureza como um capital estrutural que precisa de ser contabilizado para ser preservado.
Quanto vale um solo fértil, a polinização que apoia a produção de alimentos, as florestas que sequestram carbono, as bacias hidrográficas que purificam a água ou a diversidade genética da qual dependem centenas de medicamentos e a agricultura moderna? Para os sistemas político-económicos que olharam para a natureza como fonte contínua e inesgotável de recursos à sua disposição e ao serviço do crescimento económico, este capital natural foi invisível e, por isso, não lhe foi atribuído valor geracional.
Esta visão prevaleceu na economia, com a exploração dos recursos naturais a sustentar o desenvolvimento das sociedades – sem olhar à sua preservação ou reposição – e a ameaçar a prosperidade e bem-estar de gerações atuais e futuras.
Acresce que, da mesma forma que o capital natural não foi protegido, reposto ou valorizado, também não foi considerado o valor dos ativos naturais que se perderam (por exemplo, das espécies que se extinguiram ou da desflorestação de áreas naturais), nem foram contabilizados os custos que a sua perda implicará no longo prazo.
Reconhecer o valor da natureza como um capital que sustenta todos os demais – humano, social, financeiro e produtivo – foi um forte argumento para uma nova visão sobre os sistemas naturais. Desta perspetiva, que se encontra bem resumida na teoria dos cinco capitais, sublinhou-se a necessidade de os gerir de forma sustentável, para se evitarem disfuncionalidades ou extinções e para se perpetuarem os ganhos que deles advêm.
Dada a sua complexidade intrínseca, o capital natural manteve-se difícil de medir ou contabilizar. Uma das razões principais está no facto de a grande maioria dos mercados económicos e financeiros não reconhecer o valor do capital natural, a menos que dele se produza um fluxo monetário ou um conjunto de ativos passíveis de mensuração pelos sistemas económicos convencionais. Em resultado, o valor total e os custos da utilização ou destruição de sistemas naturais continuam a ser mal compreendidos.
O que defende a teoria dos cinco capitais?
Ao contrário de outras formas de capital, parte do capital natural tem potencial para se autorregenerar, mas esta capacidade reduz-se perante pressões ambientais e desequilíbrios provocados pela exploração insustentável, podendo evoluir para a degradação e atingir um ponto irreversível, de colapso.
Esta nova forma de olhar a natureza, como um sistema de bens que suporta a sociedade humana e a economia global, e que deve por isso ser valorizado, avançou pela mão de vários investigadores, nomeadamente do economista norte-americano Robert Constanza, em 1997.
Constanza e os colegas apresentaram uma estimativa do valor económico para os serviços ambientais globais de 33 triliões de dólares por ano. De notar que, nessa altura, o Produto Interno Bruto (PIB) global era de 18 triliões de dólares anuais.
O valor proposto foi alvo de objeções várias, desde as que envolvem questões filosóficas e éticas às relacionadas com opções técnicas. A sua utilidade foi também questionada, com asserções do tipo: “qual a utilidade prática de se subestimar um bem com valor infinito e intangível?”
No entanto, o objetivo maior da equipa de Costanza não foi a mera produção de um número. O que pretendiam era mudar a forma como se pensava a natureza, especialmente no contexto da tomada de decisões político-económicas.
Os autores tiveram consciência das limitações da sua abordagem, considerando a enorme escala de valor natural que escapa ao sistema de mensuração em mercados convencionais (mesmo que se tenha em conta apenas o seu valor utilitário), que dificilmente se presta a avaliações do tipo custo-benefício.
No entanto, o seu trabalho impeliu um esforço de integração da ecologia na economia. Através desta perspetiva, reforçou-se o reconhecimento de como a sociedade está dependente da natureza e identificaram-se elementos-chave que careciam de mudança. Aumentou, assim, a consciência de que eram necessárias rápidas e substanciais alterações à gestão da natureza (ou à falta dela).
No entanto, uma pergunta importante permaneceu sem resposta: como passar do conhecimento à ação?
Em 1997, abateu-se uma crise sobre as economias asiáticas, em particular na Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, que nos anos anteriores registavam um crescimento tão fulgurante que eram então conhecidas como os “tigres asiáticos”.
Pela mesma altura, vários meses de seca severa afetaram troços do Rio Amarelo enquanto inundações frequentes alagaram as margens do rio Yangtze (China). Na Indonésia, a queima de turfeiras e floresta (para plantação agrícola) libertou grandes quantidades de cinzas e gases que poluíram a atmosfera em áreas extensas, prejudicando a qualidade do ar no país e nos territórios em redor – das Filipinas a Singapura e até à Austrália. Em muitos destes países, a população começou a registar problemas respiratórios.
Pavan Sukhdev, um economista indiano que então trabalhava no sector financeiro, estranhou que, apesar da extensão das catástrofes ambientais, as notícias nos media se centrassem no colapso do mercado imobiliário tailandês, nas manifestações sindicais na Indonésia e na desvalorização abrupta da moeda na Malásia. Sukhdev mostrou-se particularmente preocupado com a visão enviesada da sociedade e do sector político, cuja atenção se focou maioritariamente na perda de fortunas pessoais e desprezou, quase por completo, a perda do património natural – a base de todas as economias.
Apesar de, em algumas ocasiões, o reconhecimento do valor cultural e espiritual intrínseco da biodiversidade ou dos ecossistemas ter levado à formulação de políticas públicas dirigidas à sua preservação, estas respostas eram quase sempre avulsas e localizadas (locais ou regionais), sem a necessária extrapolação para uma escala que promovesse o equilíbrio global. E Sukhdev compreendeu também que, mesmo nestas situações de pequena escala, havia a necessidade de demonstrar o valor económico dos serviços ecológicos para justificar a sua proteção e (ou) o seu restauro.
Na viragem do século, alguns casos de estudo proporcionaram evidências de que a aplicação de modelos matemáticos e económicos poderiam ser aliados da preservação e uso sustentável dos recursos naturais, e aplicados em novos paradigmas de planeamento e atuação.
Um dos exemplos clássicos desta evidência veio de Campala, a capital do Uganda: demonstrou-se, em 1999, que a preservação dos mangais adjacentes a esta cidade seria economicamente mais vantajosa do que a sua conversão em áreas agrícolas pois, ao atuarem na filtragem e purificação da água, os mangais asseguravam de forma eficiente os mecanismos de saneamento e regulação hídrica que, na sua ausência, exigiriam a construção de dispendiosas infraestruturas. Ainda assim, apesar das evidências e dos esforços de preservação, estas zonas húmidas continuaram a reduzir-se.
Em 2007, Sukhdev liderou os trabalhos realizados no âmbito da iniciativa “A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade” (no original, em inglês, “The Economics of Ecosystems and Biodiversity”, conhecida pela sigla TEEB), que trouxe para a esfera pública parte do conhecimento que temos hoje sobre o “capital natural”. Com ela, salientou a urgência de melhorar o conhecimento e a consciencialização sobre a dimensão social e económica da perda de biodiversidade.
Refira-se que a TEEB, inicialmente proposta pelo governo alemão e pela Comissão Europeia, passou depois para a égide da ONU – Organização das Nações Unidas. A equipa a ela dedicada contínua a trabalhar para “tornar visível o valor da natureza” e para que a importância de todos os elementos que compõem os ecossistemas e a biodiversidade seja reconhecida, demostrada e incentivada, permitindo avaliar as consequências económicas da sua perda e os seus múltiplos efeitos sobre a humanidade.
Como quantificar e valorizar o capital natural? Da teoria à prática
O pagamento pela prestação de serviços do ecossistema começou, ainda na década de 90, a ensaiar novas formas de passar da teoria à prática. Três intervenções em diferentes locais desafiaram as políticas ambientais de então ao basearem as suas opções no conceito inovador de capital natural:
– Enfrentando um declínio na qualidade da água potável, a cidade de Nova Iorque investiu mais de mil milhões de dólares na recuperação e restauro de zonas húmidas e na implementação de práticas agrícolas e florestais ecológicas que asseguraram a qualidade da água, em detrimento da construção de uma central de filtragem de água, cujo custo de construção, funcionamento e manutenção fora estimado em mais de oito mil milhões de dólares.
– Com uma taxa recorde de desflorestação, o governo da Costa Rica pagou aos proprietários para conservar e restaurar a floresta tropical para a promoção de um conjunto de benefícios, incluindo a geração de energia hidroelétrica, a preservação da beleza natural paisagística e a contribuição para a segurança climática global.
– Devido ao um regime prolongado de inundações nas margens do rio Yangtze, o governo chinês decidiu pagar aos agricultores o equivalente a mais de 150 milhões de dólares para que restaurassem a floresta e os prados das encostas íngremes, como forma de reduzir o risco de futuras inundações e da erosão provocada pelas enxurradas.
Estes pagamentos por serviços ambientais ainda estão em funcionamento e o seu sucesso levou a que fossem replicados em várias partes do mundo. Em 2018, foi estimada a existência de mais de 550 programas de pagamentos por serviços de ecossistemas, em mais de 60 países em todo o mundo, com pagamentos que rondariam os 40 mil milhões de dólares de transações anuais.
Já após a viragem do século, os trabalhos desenvolvidos no âmbito da TEEB apoiaram a adoção de práticas de boa gestão dos ecossistemas às quais correspondem boas práticas económicas, de modo que os ativos naturais e os serviços produzidos pelos ecossistemas possam ser integrados nos processos de decisão e até no planeamento de novos mercados de capitais. Para além dos pagamentos pelos serviços ambientais (ou do ecossistema), criaram-se outros modelos de atuação, como por exemplo:
– Sistemas de penalização dos agentes individuais ou empresariais que atuam de forma ambientalmente nociva, num princípio semelhante ao do poluidor-pagador;
– Incentivos fiscais à produção, conservação e restauro de serviços ambientais.
Para assegurar a gestão duradoura e sustentável destes modelos, é necessária a quantificação precisa, clara e transparente dos serviços de ecossistema (e da sua perda). Os limites e incertezas desta quantificação são reconhecidos, embora muitos destes serviços e processos naturais tenham já estabelecidos valores de base que lhes permitem ser transacionados e valorizados.
É este o caso do carbono retido em povoamentos florestais e da qualidade da água produzida em sistemas naturais funcionais. Da mesma forma, é já possível comparar a quantidade de horas de trabalho necessárias para a polinização de um campo agrícola (a expensas humanas ou mecânicas) com o preço associado a um serviço de polinização adjudicado a um apicultor. Mais difícil é determinar um valor para a multiplicidade de serviços que se produzem em simultâneo num determinado ecossistema ou atribuí-lo a serviços naturais de cariz espiritual ou cultural.
Apesar dos limites e incertezas associados aos modelos que permitem a valorização do capital natural, vários estudos têm mostrado, em ordens de grandeza, o valor associado aos múltiplos serviços naturais:
– O Fórum Económico Mundial (2020) estimou que metade dos 44 triliões de dólares do PIB global está largamente dependente da natureza e seus serviços;
– A perda mundial de polinizadores levaria a uma queda na produção agrícola anual de cerca de 217 mil milhões de dólares.
– Pesquisas recentes sobre o clima têm defendido que cada tonelada de CO2 captada pode ser valorizada em até 600 dólares, o que significa que as florestas mundiais, apenas pelo seu papel de sumidouros de carbono, valem mais de 100 triliões de dólares.
A falta de reconhecimento de um valor tangível para a natureza faz perdurar a ideia de que os bens naturais são gratuitos e podem ser explorados, por todos e a qualquer momento, o que amplia o risco da sua depleção. É isto que a visão ecológico-económica da natureza quer contrariar, reconhecendo a importância do capital natural e conciliando valores naturais tangíveis (suscetíveis de mensuração e valorização através de modelos conceptuais de cariz económico) e intangíveis (como os afetivos, espirituais e culturais, que dificilmente serão monetizados).
Aplicar à natureza expressões da teoria económica, tais como capital, stock, fluxo e recursos, não implica atribuir um caráter comercial nem a privatização dos bens naturais. Já a TEEB assumia que não se devia depositar uma confiança cega na capacidade de autorregulação dos mercados para otimizar o bem-estar social nem para estabelecer os preços dos bens e serviços dos ecossistemas, assumindo a necessidade de uma supervisão ou regulação pública que zelasse pelo seu bom funcionamento, corrigisse falhas e perdas decorrentes de incertezas conjunturais ou estruturais e punisse ilegalidades.
Assim, no âmbito da TEEB e de iniciativas similares que se lhe seguiram, começaram a ser lançadas as bases para uma economia alicerçada no capital natural. Mais recentemente, os mesmos princípios têm sido adotados por políticas e programas supranacionais, assim como por grandes instituições financeiras, na procura de soluções – incluindo soluções de investimento privado – que promovam a preservação e valorização do capital natural e a redução dos impactes e pressões que os colocam em risco, nomeadamente dos que advêm das alterações climáticas e da perda de biodiversidade.
Vias de monetização do capital natural pela sua internalização em mercados convencionais ou pela promoção de novos mercados baseados na valorização dos bens públicos naturais
Muito mais necessita de ser feito, pois continuamos a assistir a perdas críticas de capital natural. Por exemplo, ao declínio global dos polinizadores – incluindo abelhas, borboletas, mariposas, e outros insetos – com um risco associado de fome a escalas difíceis de quantificar. Continuamos também a assistir à destruição de florestas naturais, o que amplia a probabilidade de contacto entre pessoas e animais selvagens, com novos riscos para a saúde pública, pela propagação de zoonoses (doenças comuns a animais e humanos), como testemunham os recentes surtos de SARS, Ebola, MERS e SARS-CoV-2. Estes exemplos são apenas a ponta do iceberg sobre o que a desregulação da natureza significa para o bem-estar e sobrevivência das sociedades humanas.
Os custos estimados para a proteção e restauro da biodiversidade e ecossistemas em 2030 são de cerca de 722 a 927 mil milhões dólares. Atualmente, despende-se apenas 16 a 19% dessa quantia. Acresce que a complexidade e as interdependências dos elementos e processos naturais trazem a esta estimativa (e a outras relacionadas com o capital natural) um grau de incerteza considerável.
O artigo foi publicado originalmente em Florestas.pt.