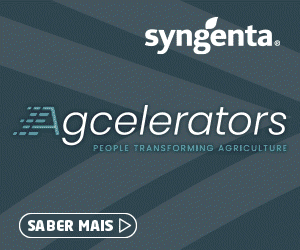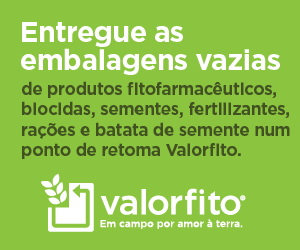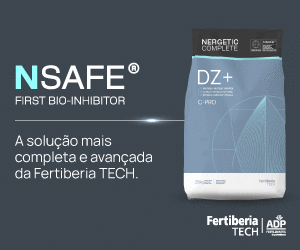Nota prévia sem grandes comentários para além de sublinhar a inaceitabilidade deste título do Público de hoje
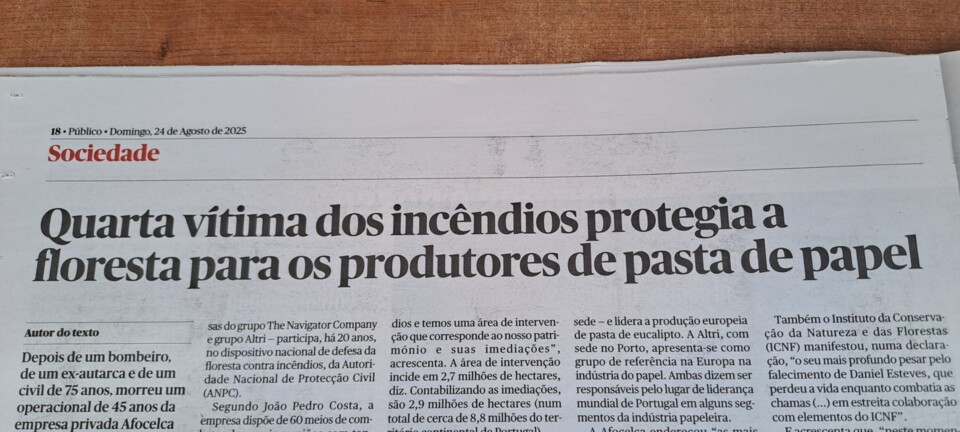
Feita esta nota prévia, comecemos então o post com uma fotografia, mais uma vez, de Paulo Fernandes, sublinhando, como o próprio fez questão de sublinhar, neste caso o ICNF fez o que lhe competia, outros é que nem tanto.

O que me interessa é a discussão à volta de investimento perdido, versus investimento produtivo futuro, a propósito de fogos.
O Estado tem gasto rios de dinheiro em faixas de gestão de combustível, como a que é referida na papeleta da fotografia, no pressuposto de uma das maneira de limitar a extensão dos fogos é manter o território numa teia de linhas onde é possível travar um fogo (porque se reduz o combustível, reduzindo a intensidade do fogo até que ela entre dentro dos limiares de extinção que permite o combate eficaz), contendo os fogos dentro de células que não permitem a sua propagação a outras células.
A ideia é boa mas, para além da discussão sobre se esta é a maneira mais eficiente de limitar a extensão dos grandes incêndios, ela só tem interesse se, para além da adequada gestão do combustível das faixas, o dispositivo de combate estiver focado em aproveitar essas oportunidades para travar um fogo em progressão, coisa que não acontece em Portugal, porque não é assim tão fácil, mas sobretudo porque a doutrina que está na base da gestão do fogo em Portugal desvaloriza o combate florestal e hiper-valoriza a defesa de pessoas e bens, concentrando os meios disponíveis nas estradas e aldeias, deixando o fogo andar livremente pelo monte.
Há alguma investigação académica sobre a eficácia desta opção pela criação de faixas de gestão de combustível que aponta no sentido de que a sua utilidade tem sido muito marginal, havendo aqui e ali notícia de terem tido um efeito passivo na extinção de fogos sem grande intensidade, e situações pontuais do seu uso pelo dispositivo de combate, com algum êxito.
O que me interessa é que este investimento só serve para o fim para que foi criado, não alavanca economia (com certeza terá algum efeito no emprego e da redistribuição de riqueza das regiões ricas para as regiões pobres, que é pequeno e com impacto temporário) e, portanto, sendo marginal a sua utilidade para o combate aos fogos, é um bom exemplo de dinheiro deitado à rua.
A generalidade das opções do Estado na afectação de recursos na prevenção tem as mesmas características, seguem um padrão em que tecnicamente se idealiza uma situação desejável, operacionaliza-se a forma de dar execução a essa opção, de maneira geral assente em regras legais e administrativas fortemente condicionadas pelo Estado, vai-se a Bruxelas buscar um bocado de dinheiro, e aqui vai disto, sem que, por um momento, alguém se pergunte o que acontece se, por acaso, as medidas forem ineficazes ou quem é que existe para as pôr em prática (esta última parte resolve-se atirando tudo para cima das autarquias, com o argumento de que estão perto das populações).
De resto, continuamos a não ter rapidamente uma estimativa dos custos do combate por incêndio, que permitiria estabelecer comparações e tentar perceber por que razão uns custam mais, e outros custam menos.
Em acabando o financiamento, acabou-se tudo, a verdadeira actividade é a captação de fundos disponíveis, e não a gestão da paisagem ou a satisfação de necessidades reais de pessoas concretas.
Já devo ter escrito que me fui aproximando das questões sobre a gestão do fogo quando, posto numa prateleira, me dediquei a estudar os orçamentos das áreas protegidas para perceber por que razão nunca havia dinheiro para gestão da biodiversidade, mas havia sempre dinheiro para a gestão do fogo (que, de maneira geral, não tem grande relevância na conservação da biodiversidade, excepto quando é usado como ferramenta de gestão).
Nessa altura, rapidamente concluí que a esmagadora maioria do dinheiro que se gastava com os fogos, quer em prevenção, quer no resto, era dinheiro deitado à rua e comecei a dar por mim a discutir aplicações alternativas para esse dinheiro que, gerindo fogos, criasse economias.
Fui evoluindo para a defesa de actividades específicas (o pastoreio à cabeça, de tal forma era evidente o seu papel, o que culminou num dos melhores artigos que escrevi, “antes cabras que aviões“) e, aos poucos, fui integrando outras actividades, tanto mais que entretanto fiz um doutoramento em evolução da paisagem rural no continente português ao longo do século XX que me permitiu ter um ponto de vista mais alargado sobre a economia da paisagem (uma coisa de que os meus colegas arquitectos paisagistas se esqueceram há décadas).
E é desse longo percurso que acabo por aderir à tese de que o fundamental é pagar, parcialmente, a gestão de matos que é feita pela economia concreta que existe, às pessoas concretas que existem, no contexto económico real que está instalado, em vez de andar à procura das soluções ideais para as quais não há nem gente, nem mercados, nem economia que as execute.
O problema é que é praticamente impossível discutir racionalmente este princípio, porque continuamos a ter gente convencida de que as oliveiras e os carvalhos não ardem (cara Maria, vá dar uma voltinha à area ardida do incêndio do Sabugal), jornalistas que acham que os parques eólicos produzem vento, jornalistas que, pedagogicamente, mostram o papel que os carvalhos podem desempenhar na protecção das casas, ao mesmo tempo que filmam acácias e, pior que tudo, não há avaliação séria de resultados, com indicadores de resultados e não com indicadores de processo.
É fácil dizer que se aumentou muito o dinheiro gasto em prevenção, equilibrando-se com o dinheiro gasto em combate, e até é verdade, só que as medidas de prevenção em que foi gasto esse dinheiro têm o pequeno problema de serem pouco eficazes e se esgotarem em si, não contribuindo para fortalecer uma economia que crie riqueza, que crie emprego, que remunere o capital e, também, gere matos.
Dir-se-á, com toda a razão, sublinho, com toda a razão, que medidas com as que defendo não resolvem tudo, tanto mais que o combate continua a assentar numa doutrina errada que dissocia o combate florestal da gestão da paisagem, limitando os pequenos avanços que possa haver na gestão de combustíveis.
É verdade, e seria útil que finalmente o Estado se deixasse dos paninhos quentes que nos levaram até aqui, criando um corpo de bombeiros florestais especializado no combate ao fogo florestal, com carreiras dignas, formação adequada, preparação adequada e competências de comando que conheça o fogo por conviver com ele ao longo de todo o ano.
Só que o combate não é coisa de que eu perceba o suficiente para andar sempre a falar disso, de paisagem sei o suficiente para ter segurança nas propostas que faço, apesar do cansaço, do imenso cansaço, de estar sempre a ouvir objecções parvas ou ideias alternativas complicadas que pretendem resolver os problemas do mundo, quando eu só quero aumentar a área de gestão dos matos e sub-bosques, passo a passo, começando por pagar parte do custo dessa gestão a quem a faz.
O artigo foi publicado originalmente em Corta-fitas.