Durante séculos, até à descoberta da síntese Haber-Bosch que permite criar fertilidade numa fábrica virtualmente a partir do ar e de energia, as terras marginais foram um dos garantes da fertilidade das terras produtivas.
Quando em meados do século XX a fertilidade passou a chegar em sacas de adubo, as terras marginais perderam a sua principal função social e o vínculo entre a produção animal e a agricultura quebrou-se.
Se a mecanização passou a permitir produzir muito mais trabalho que o obtido com os grandes animais animais, a função dos pequenos ruminantes na exploração – recolha de nutrientes da vegetação pouco prestável para a alimentação directa das pessoas, transporte e deposição desses nutrientes nos estábulos (ou nos bardos no caso das regiões de menor produtividade primária) – ficou ferida de morte com a descoberta de processos industriais de produção de fertilidade.
O efeito concreto na paisagem é uma evolução dual: as terras mais aptas à produção sofrem um processo de intensificação e simplificação estrutural, ao mesmo tempo que as terras marginais sofrem um processo de extensificação e abandono que se traduz numa renaturalização e acumulação de combustível florestal.
O resultado desta evolução é a produção de uma muito maior quantidade de alimentos e fibras a muito baixo preço, uma melhoria do acesso dos mais pobres a produtos básicos, nomeadamente alimentares, ao mesmo tempo que o padrão de fogo se altera e se torna progressivamente mais negativo socialmente, para além da perda de biodiversidade e da qualidade e diversidade paisagística.
Aqui chegados, a questão que se coloca ao sector é a de saber o que fazer, em especial tendo em atenção a cada vez menor propensão dos contribuintes para suportarem o rendimento dos agricultores no pressuposto de que é preciso produzir alimentos a baixo custo.
Uma hipótese é o sector ignorar a percepção pública de que há demasiado dinheiro a ser transferido para o sector para dar suporte a um modelo de produção que é considerado ambientalmente negativo, e continuar a reivindicar mais apoios à produção.
Outra hipótese é o sector admitir que o mundo mudou, que a questão da maximização da produção ao menor custo possível já não é considerada um bem social, e olhar seriamente para a forma de reintegrar produção animal e produção agrícola, ganhando de novo controlo sobre as terras marginais que hoje estão ao abandono.
Parece claro que tendo o mundo mudado, não se trata de voltar a modelos de produção que hoje não têm viabilidade económica e eram historicamente assentes numa miséria generalizada em que o valor do trabalho era muito baixo.
Trata-se, isso sim, de compreender que há uma responsabilidade na gestão da paisagem, cujos custos não é justo que sejam inteiramente assacados aos produtores quando os benefícios são de todos, e que para ser cumprida precisa de modelos de gestão que serão forçosamente diferentes do que foram no passado.
O mundo rural e os seus agentes mais dinâmicos podem decidir liderar essa discussão, incluindo a discussão do financiamento de uma gestão que produz benefícios sociais assinaláveis mas é deficitária nas actuais condições, ou podem cavar trincheiras contra os que querem destruir o seu modo de vida.
Por mim tenho poucas ilusões sobre o que acontecerá se o sector resolver enfiar a cabeça na areia e insistir no discurso de que as novas tendências de pensamento ligadas à sustentabilidade e à urgência da resposta aos problemas ambientais são meras manifestações de urbanos que desconhecem e não respeitam a identidade do mundo rural: por mais razão que eventualmente tenham (e eu acho que não têm toda, seguramente), os interesses dos agentes do mundo rural acabarão esmagados num beco sem saída.
Henrique Pereira dos Santos, arquitecto paisagista
































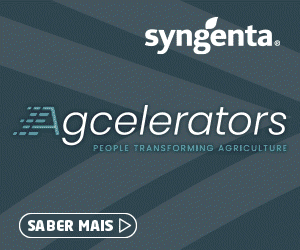



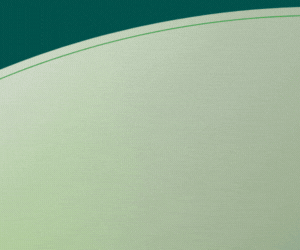
















Discussão sobre este post