O MERCÚRIO foi procurar conhecer melhor a história da construção da Barragem de Santa Clara-a-Velha, tentar perceber o pormenor do sistema do Perímetro de Rega do Mira (PRM) e investigar a eficiência da distribuição de água e, ainda, saber os níveis de água atuais
A Água da albufeira da barragem de Santa Clara, dada a seca prolongada registada nos últimos anos, chegou a estar com apenas 1% da sua capacidade útil. A falta de água em todo o país gerou alguma preocupação relativamente à eficiência da distribuição de água no concelho de Odemira e alguma indignação, por parte de alguns cidadãos, quanto à saída de água permanente dos canais de rega diretamente para o rio Mira e para o mar.
Começando pelos níveis de água atuais. Mesmo com pluviosidade muito abaixo da média, neste momento a albufeira da barragem de Santa Clara encontra-se com um nível de armazenamento de água correspondente a 70% da sua capacidade total, o que equivale a 39,25% do seu volume útil, ou seja, da quantidade de água que é possível retirar da albufeira graviticamente. São 94 milhões de m3 que garantem, mesmo que não chova nem mais uma gota de água, perto de dois anos de autonomia. Mas seria bom que, ainda este ano que vai a metade, chovesse mais.

 Todas as barragens do Plano de Rega do Alentejo (PRA), projetadas no final da década de 50 do século passado, nas quais se inclui a de Alqueva, são, na sua génese, hidroagrícolas, ou seja, foram projetadas para fornecer água para a agricultura.
Todas as barragens do Plano de Rega do Alentejo (PRA), projetadas no final da década de 50 do século passado, nas quais se inclui a de Alqueva, são, na sua génese, hidroagrícolas, ou seja, foram projetadas para fornecer água para a agricultura.
“O plano (PRA) prevê o regadio de cerca de 170 000 ha, ou seja 6,3% da superfície da província (Alentejo): não se limita aos benefícios provenientes da irrigação das áreas escolhidas, esperando obter-se outros pela melhoria da exploração agrícola e pecuária noutras zonas, incluindo as periferias ao regadio em consequência do aumento dos caudais mínimos de estiagem. Espera-se obter a regularização dos leitos dos rios, a defesa das terras ribeirinhas, a diminuição das inundações e dos carrejos, o abastecimento de água às populações e indústria, etc.” (Os aproveitamentos hidroagrícolas em Portugal / Sua história e descrição, 1967 – Coleções Fundação EDP).
“E contou ainda o Governo com as reais possibilidades de melhoria da sua balança comercial que hão de oferecer-se ao país, através da exportação dos produtos dos novos regadios e dos que resultarão da sua transformação industrial” (Comemoração do início da execução do Plano de Rega do Alentejo – Eng. Eduardo de Arantes e Oliveira, ministro das obras públicas, 1962).
O PRA previa a construção de grandes reservas hídricas a partir dos cursos de água existentes associados a redes de distribuição de água com o objetivo de alargar o regadio. Estes sistemas foram projetados no pressuposto energético neutro, ou seja, as receitas provenientes da produção de energia deveria ser suficiente para cobrir os custos energéticos associados às obras de rega.
Isto aconteceu também na construção de Perímetro de Rega do Mira. Na altura da sua construção houve opções de engenharia que se demonstraram fulcrais na viabilidade do investimento: A construção da barragem no local em que está atualmente e com a colocação da tomada de água à quota 114,70m, isto é, a captação de água da albufeira para os canais de rega é efetuada a meio do nível da albufeira em vez de estar no fundo. A esta quota é possível abastecer o litoral graviticamente, minimizando as elevações, ou seja, bombagem de água para quotas mais altas, minimizando consequentemente os custos energéticos.
A mesma barragem poderia ter sido feita 5 Km mais abaixo no rio, com menos custos, em termos de investimento, e com a mesma capacidade útil de armazenamento, ou seja, poderia regar a mesma área mas teria uma quota mais baixa, logo, para abastecer o litoral, teriam de existir maiores elevações o que iria aumentar os custos energéticos de exploração. Nesta segunda opção os custos energéticos seriam de tal ordem que teria de ser equacionada uma central hidroelétrica de pé de barragem, como se fez por exemplo em Alqueva. Fica claro que a produção elétrica é um objetivo complementar e não um objetivo principal das barragens hidroagrícolas. As barragens do Alentejo, pela sua configuração (quase todas), não são interessantes, do ponto de vista económico, para a produção de energia. Basta olhar para o mapa de barragens de produção hidroelétrica da EDP (online) para ver que, excluindo Alqueva e Pedrógão, todas elas estão a norte de Nisa.
Os técnicos da altura valorizaram a primeira opção , e avançou-se com a obra. “A obra de rega dos Campos do Mira é o mais vultoso e complexo dos aproveitamentos que constituem a primeira fase do Plano de Rega do Alentejo e é também dos mais vastos o seu alcance económico e social e decisiva será a sua influência no desenvolvimento regional. (…) Ao lado do regadio de 12000 ha, de viabilidade económica assente em premissas bastante prudentes, o aproveitamento determinará vários outros benefícios e a execução de empreendimentos que lhe estão intimamente ligados: a regularização de cheias; o domínio do transporte sólido, como resultado da arborização da bacia hidrográfica do rio Mira, a qual abrirá, por sua vez, novos horizontes económicos «à extensa zona serrana erosionada onde ainda se vive a ilusão do trigo em solos florestais»; o abastecimento de água a povoações, incluindo a sede do concelho de Odemira; a valorização e ampliação da rede rodoviária da região.” (Plano de Rega do Alentejo – obra de rega dos Campos do Mira, Ministério das obras públicas, 1969).
A Albufeira de Santa Clara é agora considerada de fins múltiplos: faz o abastecimento de água para a agricultura, o abastecimento de água para consumo humano, produção de energia elétrica e serve ainda como albufeira de lazer.
 O Perímetro de Rega do Mira (PRM) tem 12 mil hectares porque os cálculos foram, à data, prudentes. Tendo a albufeira uma capacidade útil de 240,3 milhões de metros cúbicos e um escoamento integral em ano mediano de 82,5 milhões de metros cúbicos (recolha de água da bacia hidrográfica – zona do território cujas escorrências vão para dentro da albufeira), o coeficiente de regularização da albufeira é de 2,9. Considerou-se que o volume de água a fornecer pela albufeira por período de rega (Abril a Outubro) seria de 80,4 milhões de metros cúbicos. Dito de outra forma: 240,3 milhões de m3 dariam para regar cerca de 50 mil ha (cerca de 5 mil m3 por ha/ano) mas, como a regularização média da albufeira é de 82,5 milhões de m3 por ano, o PRM (só) tem 12 mil ha.
O Perímetro de Rega do Mira (PRM) tem 12 mil hectares porque os cálculos foram, à data, prudentes. Tendo a albufeira uma capacidade útil de 240,3 milhões de metros cúbicos e um escoamento integral em ano mediano de 82,5 milhões de metros cúbicos (recolha de água da bacia hidrográfica – zona do território cujas escorrências vão para dentro da albufeira), o coeficiente de regularização da albufeira é de 2,9. Considerou-se que o volume de água a fornecer pela albufeira por período de rega (Abril a Outubro) seria de 80,4 milhões de metros cúbicos. Dito de outra forma: 240,3 milhões de m3 dariam para regar cerca de 50 mil ha (cerca de 5 mil m3 por ha/ano) mas, como a regularização média da albufeira é de 82,5 milhões de m3 por ano, o PRM (só) tem 12 mil ha.
Tudo foi calculado com elevado rigor e para o longo prazo e que tem resultado até hoje, passados quase cinquenta anos de funcionamento.
Uma das características diferenciadoras da albufeira de Santa Clara é a garantia de fornecimento de água, resultado das boas opções de projeto como atrás foi explicado. Mesmo em casos de seca extrema, esgotado o volume útil da albufeira, é ainda possível recorrer a bombagem para retirar água do volume morto (volume que não é possível retirar por gravidade da albufeira e que corresponde a mais de 50% do volume total da albufeira – 244,7 milhões de metros cúbicos). Claro está que o fornecimento de água com recurso a bombagem tem elevado dispêndio de energia e encarece os custos de funcionamento do sistema. Em todos estes anos houve necessidade de bombear água da albufeira apenas uma vez, em 1995, pelas inconstâncias das características do clima mediterrânico, caracterizado por verões longos e secos e invernos curtos e chuvosos.
 O aproveitamento hidroagrícola do Mira é composto por uma rede gravítica de canais e distribuidores a céu aberto, com cerca de 180 km de extensão, e mais de 400 km de condutas enterradas para aproximação às parcelas agrícolas. Logo no início foi previsto que, tendo o projeto estas características, houvesse uma eficiência de distribuição de água (EDA) de 60%.
O aproveitamento hidroagrícola do Mira é composto por uma rede gravítica de canais e distribuidores a céu aberto, com cerca de 180 km de extensão, e mais de 400 km de condutas enterradas para aproximação às parcelas agrícolas. Logo no início foi previsto que, tendo o projeto estas características, houvesse uma eficiência de distribuição de água (EDA) de 60%.
O sistema de distribuição de água é um sistema gravítico de controlo por montante, isto é, a água a introduzir no canal condutor geral (canal primário de transporte de água captada na albufeira da barragem de Santa Clara), tem de ser muito bem contabilizada, porque uma vez introduzida no canal, já não é possível voltar atrás. Esta água é utilizada pelos agricultores (ou outros clientes, como as águas públicas do Alentejo) nos diversos pontos da rede, alguns, cerca de 24 horas depois de sair da albufeira. Qualquer alteração ao estimado diariamente implica uma perda de água pelos terminais da rede e uma diminuição na eficiência de transporte. É necessário entender-se que nestes sistemas de rega, planeados em meados do século passado, estavam previstos horários de rega. Os agricultores regariam à medida da chegada da água à sua exploração. Uns mais cedo, os outros mais tarde. No mundo atual um sistema tão inflexível não faz qualquer sentido. A prestação do serviço de fornecimento de água tem de ser, também ela, mais flexível. O cliente quer receber a água quando efetivamente necessita dela. Claro está que não se conseguem ganhar graus de liberdade e flexibilizar de alguma forma o sistema, aumentando a qualidade de serviço, sem se comprometer, de algum modo, a sua eficiência.
Neste momento a média da eficiência do Aproveitamento hidroagrícola do Mira ronda os 65%. Parece pouco?
A média da eficiência das redes urbanas de abastecimento de água em Portugal tem níveis que rondam os 60%. Água tratada e para consumo humano. Em Odemira não será muito diferente. O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água (PNUEA) estabeleceu como metas para 2020, uma eficiência de 65% para o setor agrícola, de 80% para o uso urbano e de 85% para o uso industrial. O aproveitamento hidroagrícola do Mira, em termos de eficiência de condução/distribuição de água é um sistema que cumpre e até supera os normativos de projeto e do PNUEA.
As causas das perdas estão identificadas. Seja por evaporação, por infiltração, por roturas na rede, ou derivadas da operação do sistema e da imprevisibilidade da procura, o objetivo passará sempre por tentar reduzir ao máximo as perdas de água. A manutenção da eficiência em valores aceitáveis passa maioritariamente por regulares obras de manutenção na rede de rega e órgãos de manobra.
Agora, o que se pretende fazer é tornar o sistema ainda mais eficiente. Dentro desse objetivo já foram efetuados vários investimentos: Blocos de Rega sob pressão como o Bloco 11, na Zambujeira do Mar/Praia do Carvalhal, com 900 ha beneficiados e o Bloco 14, em Odeceixe, com 400 ha, onde a água é fornecida como nas redes domésticas (quando o utilizador abre a torneira e a água sai com pressão) e desta forma pode-se atingir uma eficiência acima dos 90% mas com maiores custos energéticos associados à estação elevatória e de pressurização; e Reservatórios Intermédios de Regularização de Caudais em locais escolhidos na rede que permitam armazenar caudais excessivos e que não vão ser utilizados no momento. Conforme vão sendo construídos, estes reservatórios permitem à entidade gestora do perímetro segmentar os canais em troços mais pequenos, mais fáceis de gerir e com uma resposta mais rápida em caso de quebra de fornecimento de água, uma vez que esta se encontrará sempre mais perto do cliente.
Estes reservatórios, ao contrário do que muitas vezes se sugere, não deverão ser no fim da linha, uma vez que depois dela não há clientes. É tudo uma questão de altura, também. A quota dos terminais da rede de rega é a mais baixa de todo o sistema, logo qualquer utilização de água a partir deste ponto implica uma elevação para quotas superiores, o que, como referido, tem outros custos.
 Para que um sistema que foi concebido de determinada forma funcione de maneira diferente, é preciso muito investimento. Neste momento o valor está calculado entre 10 e 15 mil euros por hectare para a modificação de um sistema gravítico de controlo por montante para um sistema sob pressão de controlo por jusante. Se se retirar os dois Blocos já em funcionamento (1 300 ha) sobram 10 700 ha, assim, para aumentar através desta via a eficiência do PRM terão de ser investidos mais de 100 milhões de euros, a custos otimistas. A intenção da entidade gestora é a de ir fazendo este tipo de Blocos faseadamente com recurso a fundos comunitários. Foram elaboradas e aprovadas candidaturas para mais dois blocos de rega, mas não houve dotação orçamental neste quadro comunitário de apoio, e não foi possível avançar para já com a obra.
Para que um sistema que foi concebido de determinada forma funcione de maneira diferente, é preciso muito investimento. Neste momento o valor está calculado entre 10 e 15 mil euros por hectare para a modificação de um sistema gravítico de controlo por montante para um sistema sob pressão de controlo por jusante. Se se retirar os dois Blocos já em funcionamento (1 300 ha) sobram 10 700 ha, assim, para aumentar através desta via a eficiência do PRM terão de ser investidos mais de 100 milhões de euros, a custos otimistas. A intenção da entidade gestora é a de ir fazendo este tipo de Blocos faseadamente com recurso a fundos comunitários. Foram elaboradas e aprovadas candidaturas para mais dois blocos de rega, mas não houve dotação orçamental neste quadro comunitário de apoio, e não foi possível avançar para já com a obra.
Quanto mais fechado o sistema, maior é a sua eficiência, mas mais dependente fica da energia elétrica e maiores são os custos de exploração. Todos os sistemas hidroagrícolas foram concebidos sob três variáveis: água, energia e mão-de-obra. O que o estado português fez, em 1960, foi uma obra com baixos custos energéticos, com uma EDA expectável de 60% e com grande incorporação de mão-de-obra, porque havia mais mão-de-obra disponível na altura e não se valorizava tanto a questão da EDA como hoje se valoriza. Hoje em dia, os novos aproveitamentos hidroagrícolas, são à partida mais eficientes e igualmente eficazes, têm maiores custos energéticos e utilizam muito menos mão-de-obra. Se são melhores? É tudo uma questão de perspetiva.
Também se pode dizer que é uma questão de perspetiva, a perplexidade e a insurreição demonstrada pela “perda” de água nos terminais dos canais de rega.
Espera-se ter explicado de alguma forma que uma vez colocada no canal a água não volta para trás. Ou é utilizada ou inexoravelmente segue o seu caminho para o mar. Tal qual faz o rio.
O artigo foi publicado originalmente em Mercúrio.

























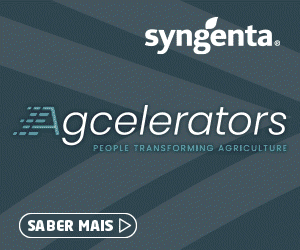
















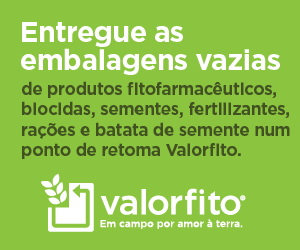








Discussão sobre este post