Há um alargadíssimo consenso sobre o diagnóstico negativo relativo à gestão dos dois terços do país que não corresponde a áreas urbanas e agrícolas.
E há também um razoável consenso sobre a falta de resultados positivos das políticas públicas que pretendem dar resposta a esse problema.
É público que o meu ponto de vista é o de que isso tem na raiz problemas de competitividade das actividades que podem gerir esses dois terços do território e, por isso, as políticas públicas devem concentrar-se em melhorar o desempenho no mercado quando tal é possível, pagando com recursos públicos (e filantropia) a gestão e produção de bens e serviços de interesse colectivo, quando a sociedade reconhece a sua necessidade e o mercado não remunera essa gestão.
É também público e notório que a generalidade das políticas públicas desenhadas para dar resposta ao diagnóstico largamente consensual se centram por um lado na contenção dos efeitos negativos resultantes do que existe neste momento, por exemplo, reforçando incessantemente as políticas de combate ao fogo, e por outro lado, em incentivos genéricos à economia, sem concentração nas actividades que podem gerir o território.
O governo, o Estado e a sociedade reconhecem a falta de resultados do que tem sido feito.
Ora se criam estruturas de missão para o interior ou ministérios da coesão, ora se proibem ou limitam as actividades que se escolhe em cada momento como bode expiatório, ora se despeja dinheiro em soluções milagrosas.
Já foram os madeireiros e a compra de madeira queimada, já foi a actividade imobiliária, já se perseguiram os proprietários absentistas, ultimamente tem sido o eucalipto, enfim, vai variando a actividade, mas não a intervenção administrativa de condicionamento.
Do lado das soluções milagrosas, já foram as ZIFs, as redes de faixas de gestão de combustível, o financiamento de gabinetes florestais municipais, Planos de Ordenamento Florestal, enfim, o Céu é o limite para a invenção de novas soluções milagrosas para resolver de uma penada um problema complexo de economia que se agrava há décadas.
Uma das últimas soluções milagrosas assenta numa ideia que alguns consideram nova: transformar a paisagem que existe na paisagem que deveria existir, de acordo com as opiniões de pessoas que dão conselhos sobre o que os outros devem fazer melhor, pessoas que, por acaso, nunca fizeram, elas próprias, melhor.
Resumindo, alguém achou muito inovador torrar milhões a tornar realidade utopias.
“35% deveria ser alvo de transformação, que a agricultura poderia aumentar de 23% para 35%, que as espécies autóctones podem ser expandidas em 31%, que o eucalipto, que no total ocupa 17% da região devia ser reduzido para 5% e apenas em áreas complementares … nós conseguimos identificar os locais onde deveria haver intervenção prioritária, 22% da região centro deveria ter uma intervenção prioritária … esta recuperação da paisagem tem que estar naturalmente associada a uma transformação real da paisagem”.
Os pressupostos que estão na base do estudo que chega a estas conclusões são muito discutíveis (no que diz respeito à gestão do fogo, são mesmo errados e sem qualquer fundamento técnico e científico sólido, apesar de uma revista científica ter aceitado publicar um artigo científico que nem sequer respeita o conteúdo dos outros artigos científicos que cita), mas não é isso que me interessa agora, o que me interessa é perguntar: como, com quem, com que economia, se consegue fazer o que está descrito acima?
Eu sei que é dito que a produção de espécies autóctones é rentável, não com base em estudos de caso que demonstrem empiricamente o que é dito, mas com base em contas de exploração que nunca foram confrontadas com a realidade, são hipóteses baseadas em pressupostos que nunca se verificaram.
Mas ainda que assim fosse, ou melhor, ainda que pontualmente se verifique que numa situação ou outra as contas de exploração teóricas tinham tradução empírica, voltamos à base: com que agricultura, com que produções, com que mercados a região centro consegue aumentar a sua área agrícola de 23% para 35%, num contexto global de retracção da área agrícola explorada, embora com intensificação da exploração das áreas agrícolas que não são abandonadas?
Sim, há expansão da área de vinha ou de cerejeira em algumas zonas, mas o saldo de expansão de algumas culturas e abandono de outras áreas é positivo, ou vai passar a ser positivo?
Com quem? Com que mercados? Com que canais de distribuição? Com que modelos de exploração do trabalho, que é inerentemente sazonal e se debate com uma profunda escassez de mão-de-obra?
E se sairmos da área agrícola e passarmos aos terrenos não agrícolas, reduzindo a área de eucalipto de 17% para 5% (e tenho pena que no audio da apresentação não apareça nada sobre o pinhal, que em alguns projectos resultantes do mesmo modelo de intervenção é somado ao eucalipto, propondo-se reduções de cerca de 70% de ocupação actual para valores de menos de 10%), o que fazemos, com quem, com que recursos, com que mercados, com que economia, às áreas libertadas da praga do eucalipto e pinheiro?
Certo, certo é que desde 2018, logo depois do incêndio de Monchique, em que foi lançada esta utopia de transformação da paisagem, formalizando-se numa matriosca de estratégias, planos de ordenamente, planos de acção, etc., já se consumiram uns milhões, já se comprometeram para o futuro próximo mais outros milhões e prometeram-se para o futuro mais longínquo ainda mais milhões, mas no terreno, até agora, nada, nada, nada, nem mesmo na única área em que se conseguiu aprovar um plano: Monchique.
A única transformação visível, até ao momento, é a transformação habitual, a transformação de dinheiro de todos os contribuintes em dinheiro de alguns prestadores de serviços, o principal dos quais, o Estado.
A paisagem, essa, continua a evoluir todos os dias, “estoicamente, mansamente, [resistindo] a todas as torturas, a todas as angústias, a todos os contratempos, enquanto eles, do alto inacessível das suas alturas, [forem] caindo, caindo, caindo, caindo, caindo sempre, e sempre, ininterruptamente, na razão directa do quadrado dos tempos”.
O artigo foi publicado originalmente em Corta-fitas.

































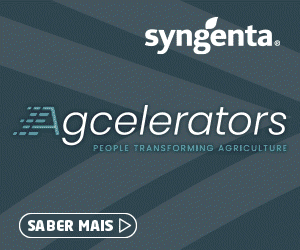







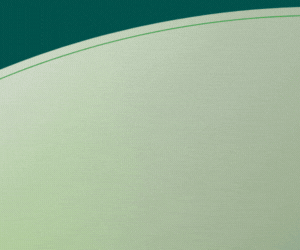














Discussão sobre este post