Com o título deste post, Jorge Capelo escreveu um artigo para o Público, o que é muito raro e é de saudar.
Conheço bem o Jorge e aconselho vivamente que se leia o que escreve.
Conheci-o pessoalmente, já tinha ouvido falar bastante dele, numa situação estranha quando eu era vice-presidente do ICN.
Tínhamos chumbado um empreendimento turístico num processo de Avaliação de Impacte Ambiental, em grande parte por causa da presença de um habitat incompatível com o projecto.
Houve uma reclamação do promotor, apoiada pela Direcção-Geral de Turismo e num extenso parecer de um distinto académico e fitossociólogo que garantia que o habitat não existia na área do projecto.
Imediatamente disse que a divergência era fácil de resolver, íamos todos para o campo, ICN, DGT e promotor, levassem o consultor deles que o ICN lá estaria para verificar se a reclamação era justa.
Eu nem sabia que em grande parte a identificação do habitat tinha sido feita por técnicos externos, no caso, Jorge Capelo, de maneira que nem sabia quem ia da parte técnica do ICN e fomos todos para o campo (se fosse um insecto, uma ave, um mamífero, este método de resolver divergências era mais difícil de aplicar, mas os habitats não andam a saltitar de um lado para outro).
Lá se encontrou o habitat, o consultor do promotor explicou que quando foi visitar a área não o tinham levado por aquela estrada, e assunto ficou resolvido, não sem que o Jorge, que não me conhecia, tivesse deixado claro que agradecia que nunca mais o colocassem naquela posição, em que esteve visivelmente incomodado, mas com o rigor e a segurança que o caracterizam em fitossociologia.
O Jorge é das duas ou três pessoas a quem recorro quando tenho dúvidas sobre um ou outro aspecto da vegetação potencial natural em Portugal, sendo outra das duas ou três pessoas um grande compincha profissional, e penso que amigo pessoal do Jorge, o Carlos Aguiar, de que falarei também neste post.
Os dois estarão com certeza na lista dos dez melhores botânicos de Portugal que qualquer pessoa minimamente informada faça e se eles dizem que uma coisa é assim, na área deles, eu passo a considerar que é assim, mesmo que tenha dúvidas de interpretação.
Por causa deste artigo, o Jorge e eu trocámos uma série de mensagens, porque não me parecia que o Jorge estivesse a olhar para o assunto de uma forma compatível com a história das nossas paisagens, achei o artigo especulativo, o Jorge acho que era uma interpretação baseada em factos demonstráveis, portanto parecia-lhe que qualificar o que escrevia como especulação era injusto.
Diz o Jorge que há o risco dos carvalhais do Sudoeste de Portugal, de carvalho-de-monchique, carvalho-cerquinho e carrasco-arbóreo desaparecem por causa de fogos como o que houve em São Teotónio, substituídos por carvalhais mais mediterrânicos, com maior dominância do sobreiro (o que me ri com a preocupação do Jorge em ver tudo reconduzido a matas de sobreiros e charivari que por aí vai no movimento ambientalista por causa de uns cortes de sobreiros, não tendo a menor dúvida de que o Jorge tem mais razão que o resto do povo, como de costume).
O próprio Jorge, num comentário posterior numa discussão sobre o artigo, resolveu resumir os seus argumentos, muito bem resumido: “Os carvalhais do SW com plantas laurifólias são relíquias climáticas pré-mediterrânicas, funcionalmente pouco adaptadas ao fogo, os processos sucessionais atuais sugerem fortemente que o com o agravar, ou persistir, do regime de fogo, são gradualmente substituídas por vegetação mediterrânica mais adaptada ao regime de fogo.(ex. sobreiros). Podemos estar a assistir ao desaparecimento dos últimos. Por protegidos que tenham estado, com as condições atuais da paisagem contemporânea hipertrofiada de biomassa e clima adverso favorável a regimes de fogo severos, nada faz pensar que tais ecossistemas antigos se possam restabelecer plenamente. Não é isso que vejo ao reconstruir as sucessões por observação comparativa no terreno.O regresso ao estado inicial em tais comunidades de plantas não é plausível. Há sempre histerese que se traduz por empobrecimento estrutural, funcional e até perda de espécies. Tudo o que vemos, são florestas secundárias e versões empobrecidas por 5 mil anos de fogo. Como exceção, as relíquias são isso mesmo.
Tal como alego no artigo (Q.E.D. pelo que tenho falado hoje e que já sabia) – existe na comunidade de especialistas do fogo a convicção enviesada, parece-me, de que o restauro dos ecossistemas após o fogo é pleno e universal. É verdade para muitos casos de ecossistemas mediterrânicos. Mas eu alego que há alguns casos em que isso não se aplica e que neles a inevitabilidade do fogo deixa menos esperança na sua recuperação.
(P.S. nem os urzais que ardem há milénios, sob regimes de fogo intenso resistem, por vezes, muitos transform-se em prados de gramíneas sobre solos erodidos), quanto mais carvalhais com Prunus lusitanica, Ilex, Myrica faya, Rhododendron e azevinhos).”.
Como o post vai longo, e ainda vai ficar mais longo, vamos então aos pontos da discussão em que acho que o Jorge tem uma visão pouco razoável da história dos sistemas naturais, o que o leva a falar do fogo sem destacar a principal questão que levanta, embora lateralmente, e que vale a pena discutir seriamente: a alteração do padrão de fogo.
“existe na comunidade de especialistas do fogo a convicção enviesada, parece-me, de que o restauro dos ecossistemas após o fogo é pleno e universal”.
Não sei de que comunidade fala o Jorge, eu seguramente não faço parte de qualquer comunidade de especialistas do fogo, mas falo muito com gente que, essa sim, é especialista em fogos. Não conheço um único que subscreva a tese de que o restauro de ecossistemas é sempre pleno e universal.
Lembro-me de que quando tinha um cargo dirigente no ICN, não me lembro qual, com tutela sobre a gestão do fogo (nessa altura ainda as florestas e a conservação era sectores administrativos diferentes), perante a necessidade de afectar meios à gestão do fogo, por razões de conservação, se procurar agrupar os habitats protegidos com base numa matriz de duas entradas. Não me lembro dos nomes, mas de um lado avaliava-se a a relevância de conservação do habitat e por outro avaliava-se a probabilidade de recuperação pós-fogo, isto é, se ardendo, era de esperar uma recuperação rápida e “plena” (para usar o termo do Jorge) ou, pelo contrário, se a recuperação era muito complicada (por exemplo, lembro-me dos zimbrais do vale do Douro, habitats razoavelmente raros, que não serão dos que mais ardem, mas que se arderem podem significar a perda do habitat, pelo menos a nível local).
A ideia era criar zonas em que não valia a pena (ou era mesmo contraproducente, do ponto de vista de conservação) gastar recursos no combate ao fogo (por exemplo, os prados de calcáreos com orquídeas são prioritários do ponto de vista de conservação, mas precisam e beneficiam de perturbações periódicas como o fogo, para não evoluírem para habitats mais vulgares), e zonas em que se deveriam adoptar políticas de supressão do fogo, como nos referidos zimbrais.
Nada disto teve continuidade, como é vulgar na administração pública, mas exemplifica a ideia de que, ao contrário do sugerido pelo Jorge, há distinções relevantes de risco associado ao fogo em quem olha para o fogo como um elemento natural com que é preciso contar, considerando que o fogo não é uma probabilidade, mas uma certeza.
Carlos Aguiar (um dos meus orientadores de doutoramento), tem vindo repetidamente a chamar a atenção para uma questão diferente.
Penso que a primeira vez que o li ou ouvi a este propósito foi sobre os cervunais da serra da Estrela.
Os cervunais são um habitat associado ao pastoreio e ao fogo, e há séculos que convivem com o fogo.
Mas o fogo pastoril (muito frequente, menos intenso, em mosaico e tipicamente no Outono/ Primavera) é muito diferente do fogo do abandono, menos frequente, mas mais intenso, mais contínuo e tipicamente no Verão. A consequência é que a matéria orgânica do solo, que não é afectada (mais rigorosamente, a ser afectada, é-o positivamente) pelo primeiro padrão de fogo, é afectada pelo segundo padrão de fogo.
Carlos Aguiar tem excelentes videos e textos no site do Life Maronesa em que explica e mostra os efeitos desta alteração do padrão de fogo em habitats de montanha, como refere o Jorge Capelo, quando dá o exemplo dos urzais.
Este aspecto, o dos diferentes efeitos de diferentes padrões de fogo, é realmente uma discussão que é preciso fazer, não estou convencido com os argumentos do Jorge sobre o risco de afectação dos valores que refere – essencialmente porque há cinco mil anos, pelo menos, que tudo o que está na nossa paisagem convive com fogo e pastoreio, e há muitos mais anos que convive com fogo – mas tenho poucas dúvidas sobre a necessidade da discussão sobre os efeitos da alteração do padrão de fogo que tem vindo a ocorrer, em simultâneo com a recuperação dos sistemas naturais.
Mais que isso, na dúvida, em relação a sistemas naturais reliquiais como os que refere Jorge Capelo, parece-me sensata a adopção de uma política de supressão do fogo, pontual, dirigida especificamente a esses valores naturais, até que tenhamos mais informação.
A questão de fundo, é que as abordagens do Jorge e minha têm implicações de gestão substancialmente diferentes: o Jorge fala dos riscos do fogo em abstracto, em falo dos riscos da alteração do padrão de fogo, o Jorge não conclui, mas sugere, que se deveria evitar a presença do fogo nestes sistemas, eu admito que até se pode pensar nessa hipótese, mas que isso implica mais fogo nos sistemas envolventes, e não menos.
Resumindo, a questão não é o fogo, a questão é o modelo de gestão que nos permite escolher o padrão de fogo adequado a cada parte do território, sabendo que o fogo é um elemento natural inevitável e essencial à evolução dos sistemas.
Mesmo que o Jorge tivesse inteiramente razão em tudo o que diz, qualquer política assente na ideia de que é possível evitar sempre o fogo num determinado sítio, seria uma política condenada ao fracasso, mais tarde ou mais cedo.
Um comentário final para fazer notar que li algures que um povoamento relevante de carvalhos de monchique na área do fogo de São Teotónio não chegou a ser afectado. É natural que assim seja, os habitats reliquiais que convivem mal com o fogo, de maneira geral, estão confinados a localizações desfavoráveis ao fogo. Geralmente estão em posições fisiográficas que lhes permitem ter uma humidade relevante e não estar expostos aos ventos que dominantemente conduzem os fogos, quando o combustível é abundante e contínuo.
O risco, provavelmente, é bastante pequeno, mas estando nós a falar de pequenas manchas de valores naturais reliquiais, seria bom que nos puséssemos de acordo sobre os melhores modelos de gestão para conviver com o fogo, diminuindo o risco para estas manchas reliquiais.
O artigo foi publicado originalmente em Corta-fitas.
































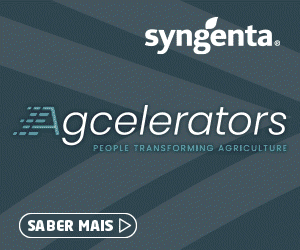





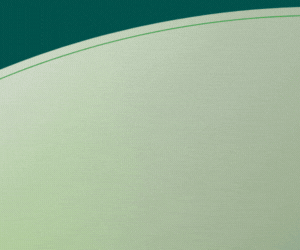















Discussão sobre este post