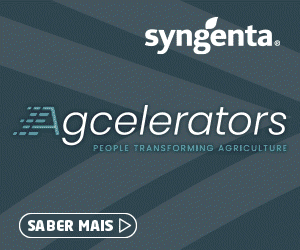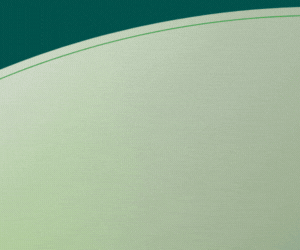Teresa Andresen ligou-me um dia destes a chamar-me a atenção para o facto da forma como eu falo sobre ignições e a sua relação com a gestão do fogo poder beneficiar da utilização de exemplos mais próximos da experiência pessoal da maioria das pessoas que me estarão ouvir, sugerindo que eu falasse antes de cigarros em vez de ervas.
Brevemente farei uso desse conselho inteligente, mas antes gostaria de fazer dois ou três comentários sobre a forma como a minha escola, a escola de arquitectura paisagista portuguesa, se tem relacionado com o fogo e a sua gestão, afastando-se daquilo que era uma prática muito comum na primeira geração de arquitectos paisagistas, a discussão e conversa inter-pares de que é exemplo a inconfidênca com que comecei o post.
Parte do pensamento da minha escola está bloqueado pelo peso do que foi a intervenção social dessa primeira geração de arquitectos paisagistas, em especial por uma reverência a Ribeiro Telles que se compreende – mas a que o própio nunca obedeceria – impedindo a saudável evolução intelectual das bases fundamentais da profissão.
Aos argumentos preferem-se, frequentemente, as citações, lembrando-me sempre da epígrafe da minha tese de licenciatura, dos diários de Camus (ainda fui dar uma vista de olhos na estante onde sei que está esse livro, mas entre livros em segunda fila, fotografias várias e outra quinquilharia, iria perder muito tempo à procura dessa citação) sobre o facto de aos historiadores que se debruçavam sobre realidades concretas se sucederem os professores de história que se debruçam sobre os historiadores, ou qualquer coisa do género.
Uma das mais frequentes citações de Ribeiro Telles nas discussões sobre fogos é esta:
“”A limpeza da floresta é um mito.
O que se limpa na floresta, a matéria orgânica?
E o que se faz à matéria orgânica, deita-se fora, queima-se?
Dantes era com essa matéria que se ia mantendo a agricultura em boas condições e melhorando a qualidade dos solos. E, ao mesmo tempo, era mantida a quantidade suficiente na mata para que houvesse uma maior capacidade de retenção da água.
Com a limpeza exaustiva transformámos a mata num espelho e a água corre mais velozmente e menos se retém na mata, portanto mais seco fica o ambiente. A limpeza tem de ser entendida como uma operação agrícola. Mas esta floresta monocultural de resinosas e eucaliptos, limpa ou não limpa, não serve para mais nada senão para arder. Aquela floresta vive para não ter gente.”
Haveria vários comentários a fazer sobre a evolução do conhecimento entre a altura em que estas declarações são feitas e o dia de hoje (as declarações são de uma entrevista a Ribeiro Telles na sequência dos fogos de 2003), mas o que me interessa é concentrar-me no que se sabia nessa altura (e nessa altura já Ribeiro Telles lia pouca pouca investigação sobre o assunto, há muitos anos) sobre o papel ecológico do fogo e o que hoje é ponto mais ou menos assente entre quem se dedica a estudar a ecologia do fogo.
É claríssimo que Ribeiro Telles olha para o fogo como um elemento de destruição no ecossistema, “deita-se fora, queima-se?”, pergunta a propósito do que fazer à matéria orgânica que se acumula.
Esta concepção do papel ecológico do fogo já estava desactualizada em 2003, mas era ainda matéria de alguma controvérsia de base científica, hoje é uma concepção que se considera totalmente obsoleta (amanhã não sabemos, Egas Moniz, o médido português que ganhou o Nobel da Medicina, ganhou-o pelos avanços numa técnica da medicina cuja aplicação “em grande escala é hoje considerada como um dos episódios mais bárbaros da história da psiquiatria”. Já agora, Egas Moniz nunca defendeu essa aplicação em larga escala).
O que hoje é do mais chão consenso é que o fogo é um processo ecológico fundamental de renovação dos sistemas, diferindo da mais amada decomposição orgânica na velocidade e libertação de energia, mas não no essencial: os dois processos consistem na quebra de cadeias químicas complexas que permitem alimentar o solo e as plantas com nutrientes em formas químicas elementares mobilizáveis pelas raízes das plantas.
Queimar e deitar fora não, de modo algum, a mesma coisa, queimar é renovar o sistema fertilizando o solo, desde que a intensidade da queima seja controlada, sobretudo através da humidade disponível.
Persistir em citar Ribeiro Telles, desistindo de compreender melhor a realidade, para melhor a transformar, não é nenhuma fidelidade ao legado de Ribeiro Telles, é uma forma insidiosa de o trair, porque o legado de Ribeiro Telles é um legado de curiosidade permanente, de vontade de mudança, de aprendizagem sistemática, de compreensão do mundo que permita separar o que é permanente do que é contingente, condição sine qua non para uma gestão sustentável da paisagem e das comunidades que a moldam e transformam.
O respeito pelos “mayores”, como diriam os espanhóis, ou os “mais velhos”, como diriam os moçambicanos, não consiste em procurar cristalizar o produto do seu trabalho, consiste em respeitar os fundamentos sobre que trabalharam, sem medo do escrutínio permanente da sua validade.
Para grande tristeza minha, a minha escola não se tem distinguido particularmente pela capacidade de inovação, nomeadamente na produção de pensamento sobre o fogo enquanto elemento estruturante da evolução e gestão da paisagem, repetindo acriticamente mantras sobre ordenamento do território, da paisagem, da floresta, sem se dar conta de que onde outros entendiam o ordenamento como “a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao homem” (sublinho bem, em relação ao homem, e ao homem concreto, e não com base no amor incomensurável pela humanidade em geral e o mais profundo desprezo por cada pessoa em concreto), hoje é dominante a prática de um ordenamento que é um processo administrativo de imposição coerciva, aos seus gestores, de uma paisagem idealizada por terceiros.
O artigo foi publicado originalmente em Corta-fitas.