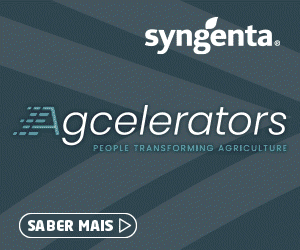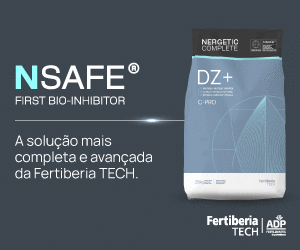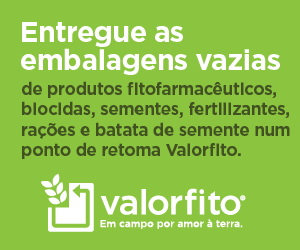Vivemos, hoje, com as grandes transições e os riscos globais, perigos iminentes e um movimento permanente de dissolução e recreação de sentido no espaço agro rural. É uma zona de impacto e interconexão entre a cidade e o campo, a natureza e a cultura, a economia e o ambiente, o sector e o território, a agricultura e a floresta, as ciências naturais e as ciências sociais. É, também, um caminho para uma política da vida onde a biodiversidade, na base, e a diversidade cultural, no topo, andam de mãos dadas. É um caminho que se faz caminhando, em busca de uma metanarrativa da 2ª ruralidade.
Este caminho até à 2ª ruralidade é, também, uma introdução a uma nova geografia de sistemas complexos compostos de unidades de paisagem, sistemas produtivos locais, sistemas patrimoniais-culturais e unidades de administração e governo locais. Alguns exemplos de aplicação podem ser, desde já, apontados: a gestão de bio regiões e áreas de paisagem protegida (os parques nacionais e naturais), os grandes empreendimentos de fins múltiplos, as zonas que são reserva da biosfera e património agrícola mundialmente reconhecido (Barroso), as zonas de intervenção florestal e agroflorestal, os parques agroecológicos municipais e intermunicipais das CIM, entre outros exemplos.
Estes complexos territoriais são exemplos de vida, história e geografia, que resistem à homogeneização do mundo-plano, onde ainda é possível descortinar uma inteligência territorial remanescente e ainda se respira o espírito e o génio dos lugares. Acreditamos, por isso, que ninguém será capaz de eliminar a complexidade do real, a aleatoriedade da natureza e a imprevisibilidade humana e que estes fatores podem ser muito úteis ao desenho e à gestão de sistemas territoriais complexos. Ora, face à gravidade dos riscos climáticos e ecológicos, a primeira prioridade da política agro rural, lá onde tudo começa, é a provisão de serviços de ecossistema, a base de uma política da vida ou biopolítica, nos termos que aqui se definem:
Em primeiro lugar, os serviços que sustentam a vida: a formação de solos, a formação de habitats, a circulação dos nutrientes, a produção de oxigénio, a produção primária de biomassa, a polinização, a dispersão de sementes.
Em segundo lugar, os serviços que regulam o equilíbrio ecológico: a purificação do ar, a purificação da água, a regulação do ciclo da água, o controlo de enchentes, o controlo da erosão, o tratamento de resíduos, o controlo de pragas e doenças.
Em terceiro lugar, os serviços que fornecem os bens essenciais: os alimentos, energia, fibras, recursos genéticos e bioquímicos, fitofármacos, água potável, plantas ornamentais.
Por último, os serviços culturais distintivos: a identidade cultural e territorial, os valores espirituais e religiosos, o saber tradicional, os valores estéticos, o lazer e turismo.
De acordo com esta prioridade essencial, os complexos territoriais são laboratórios ou incubadoras de construção de novas territorialidades, onde a pouco e pouco se recupera o capital natural e o capital social e se desperta a inteligência territorial adormecida dos lugares e do mosaico paisagístico. Nesta linha de pensamento, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento de uma agricultura da 2ª ruralidade residirá na inibição ou no receio que sentirmos em enfrentar as alternativas ao modelo dominante de agricultura, em ir à redescoberta, sem quaisquer medos, da nossa exclusão e contra racionalidade. Se formos capazes de assumir a liberdade desta contra racionalidade, iremos, também, redescobrir muitos subsistemas territoriais em espaços geográficos que já considerávamos não-lugares, pois mesmo nos espaços mais críticos da baixa densidade há uma razão orgânica e virtuosa e um génio dos lugares que podem irromper a qualquer momento, se forem devidamente observados e provocados.
Dito isto, a prioridade essencial que aqui atribuímos aos serviços de ecossistema é tão urgente e necessária como politicamente controversa, para além de ser muito exigente em termos de conceção e implementação da respetiva política pública. Para uma reflexão posterior mais detalhada, deixo aqui alguns tópicos que merecem ser aprofundados tendo em vista a sua compatibilização estrutural com a provisão de serviços de ecossistema e a ecologia funcional que lhe corresponde no caminho conjunto que fazem até à 2ª ruralidade.
– Em primeiro lugar, no plano concetual, a transição de conceitos duais, dicotómicos e polarizados para conceitos mais transversais, ecléticos e holísticos que indicam movimento, abertura, envolvimento e complexidade (os prefixos trans, poli, multi, inter, marcam o movimento dessa transição);
– Em segundo lugar, no plano produtivo, a transição da produção material e mercantil para uma produção conjunta e de bens comuns, que inclui bens e serviços, materiais e imateriais, com e sem valor direto de mercado;
– Em terceiro lugar, no plano da eco circularidade, a associação ao biodesign, à passagem do tecno mimetismo para o bio mimetismo, de acordo com as novas métricas de sustentabilidade e economia circular;
– Em quarto lugar, no plano da arquitetura do espaço rural, a transição do campo como espaço-produção para o campo também como espaço-consumo e lazer, ou seja, a consideração do campo como construção social de um novo espaço público;
– Em quinto lugar, no plano técnico-jurídico, a transição de um campo ou relação jurídica em que dominam os direitos clássicos de propriedade para um campo onde os direitos de acesso, circulação e ordenamento ganham uma relevância crescente;
– Em sexto lugar, no plano da gestão pública, a transição para uma nova geração de custos e benefícios de contexto, onde ganham preponderância os efeitos sistémicos ligados à provisão dos serviços de ecossistema e a inovação económica associada às relações entre o preço do bem privado e o valor dos bens comuns que são essenciais à produção privada;
– Em sétimo lugar, no plano da gestão de riscos, a transição entre diferentes culturas de risco ou como uma perceção mais aguda do risco global e suas consequências conduzem e abrem caminho para novas estratégias de proximidade, de acordo com uma cultura mais mutualista, cooperativa e comunitária de comunidades de risco que pode incluir abordagens como os clubes, os condomínios, os contratos e as convenções;
– Em oitavo lugar, no plano tecno-digital, a transição entre o mundo virtual e o mundo real não se deve limitar à digitalização e aos automatismos do processo produtivo da agricultura, mas alargar-se à produção de conteúdos do processo criativo da agrocultura, num vai e vem entre a experimentação e a prática de novas iniciativas e projetos;
– Em nono lugar, no plano da justiça intergeracional, a transição para novas lógicas de ação coletiva por via de uma consciência e de uma conexão mais clarividentes entre direitos de existência, hoje, e direitos de opção, amanhã, que afirmarão progressivamente os serviços de ecossistema como um imperativo existencial e civilizacional reconhecido por novas declarações de interesse público local, regional, nacional e internacional;
– Por último, no plano da curadoria territorial, um imperativo orgânico e funcional justificará a transição para ações integradas de base territorial e para a oferta integrada e complementar de medidas de política pública que só uma estrutura ou governo de missão regional e/ou sub-regional estará em condições de operar.
Notas Finais
Estamos em plena transição climático-ecológica e tecnológico-digital e à procura das métricas que melhor salvaguardem o equilíbrio entre valores, interesses e relações de poder no curto, médio e longo prazos. Não surpreende, por isso, que a União Europeia e os Estado nacionais se esforcem por alargar o âmbito e a natureza das suas intervenções. Um primeiro exemplo reporta-se à criação de uma série de ecoregimes e medidas de condicionalidade verde que visam prevenir, mitigar, remediar, adaptar, conservar e restaurar os ecossistemas e as áreas de paisagem protegida. Um segundo exemplo diz respeito à criação de várias figuras normativas de planeamento e gestão, mas, também, de curadoria territorial como os condomínios de aldeias, as comunidades de energia, as zonas de intervenção florestal, as áreas integradas de gestão paisagística, entre outras.
Este crescimento do domínio público, comunitário e social, motivado por razões climáticas, ecológicas, energéticas, ordenamento paisagístico, mas, também, de revitalização sociodemográfica, irá matizar a ocupação do espaço e diversificar o leque de instrumentos ao dispor da política de coesão territorial. Por isso, eu pergunto: que matriz de agriculturas queremos ter em 2030 que respeitem o novo alinhamento entre microclimas, ecoregimes, energias renováveis, ecossistemas e serviços de ecossistema, infraestruturas digitais e ecossistemas inteligentes, novos sistemas de produção agroecológica, uma nova ocupação sociodemográfica?
Nesta linha de pensamento, estou em crer que a PAC para a década de 2030 será uma política de transição estrutural, não obstante a luta intestina para manter os privilégios corporativos alcançados ao longo de décadas. Na minha opinião, a única forma de a PAC 2030 não se transformar numa política de banco de urgência e cuidados intensivos, em consequência de desastres naturais, cada vez mais intensos e frequentes, é rever as suas prioridades políticas e assumir, claramente, uma mudança paradigmática orientada para a provisão de serviços de ecossistema e a regulação das externalidades positivas que eles proporcionam, ou seja, a prioridade a uma economia de serviços de interesse geral e bens comuns que valorizam a produção privada, mas, também, a qualidade de vida de todos os que decidam voltar ao mundo rural.
Professor Catedrático na Universidade do Algarve
Os processos de ruralização e a estratificação social da 2.ª ruralidade