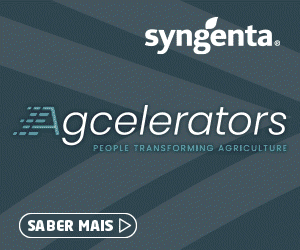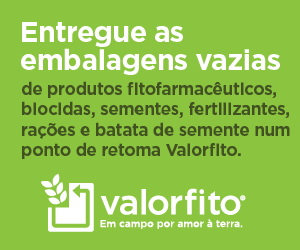Todas as plantas têm nomes comuns, que diferem dependendo do país ou até da região. Contudo, têm também um nome científico universal, em latim, que as identifica inequivocamente. Este nome científico é determinado pela taxonomia, a ciência que identifica os seres vivos, classificando, descrevendo e nomeando cada espécie. Conheça o sistema de nomeação usado na ciência, quem o propôs e quais as regras vigentes.
O termo taxonomia surgiu apenas no século XIX, mas identificar e nomear os seres vivos que nos rodeiam é algo tão antigo como a humanidade. No caso das plantas, conhecer e distinguir entre espécies comestíveis, curativas ou tóxicas era antes de mais uma necessidade e foi assim que os predecessores da taxonomia começaram a fazer os seus registos.
O primeiro registo que se conhece data de há cerca de cinco mil anos e tem como autor Shen Nung, Imperador da China, considerado o pai da medicina tradicional chinesa, que criou um registo farmacopeico com 365 medicamentos derivados de minerais, animais e plantas.
Muitos outros contributos se seguiram ao longo da história, trazidos pelos mais variados estudiosos, desde os filósofos da Antiguidade aos anatomistas, naturalistas e botânicos que fundaram as bases da moderna taxonomia.
Considera-se que a taxonomia moderna foi fundada com os trabalhos de Carl Lineu (1707–1778): “Systema naturae” (1735), “Genera plantarum” (1735-1737) e “Species plantarum” (1753). Embora tenha herdado muita informação de botânicos e naturalistas anteriores, Lineu formalizou a base do sistema que ainda hoje é usado para nomear cientificamente as espécies. Ficou especialmente reconhecido pela sua proposta de um sistema de nomeação binomial (dois nomes).
Os sistemas anteriores eram polinomiais (por vezes, com nomes muito longos) e tinham regras arbitrárias, definidas pelos autores das classificações. Por exemplo, o cedro-do-Buçaco foi referido pelo botânico francês Tournefort como “Cupressus lusitanica patula, fructu minore”. Em 1768, Miller renomeou-o, usando o sistema binomial de Lineu, apenas como Cupressus lusitanica.
Lineu, o fundador da moderna taxonomia
Além deste sistema de dupla nomeação e com base em classificações dos seres vivos feitas anteriormente, o jovem Lineu propôs na sua primeira obra (tinha apenas 28 anos) uma estrutura de categorias sequenciais para agrupar animais, vegetais (onde incluía os fungos) e minerais (domínio este que foi totalmente descartado). Na sua proposta, estes três Reinos (animal, vegetal e mineral) seriam sucessivamente organizados em Classes, Ordens, Géneros e Espécies, com base em características físicas (morfológicas) partilhadas que ele próprio escolheu.
Apesar desta classificação e critérios já não corresponderem aos que se aplicam no século XXI (nas plantas, as categorias de classificação relevantes são Ordem, Família, Género e Espécie, e os caráteres morfológicos arbitrários são considerados insuficientes e pouco robustos), a ideia da espécie como unidade base de classificação estava já bem patente.
Taxonomia: foi Lineu que nomeou a espécie Homo Sapiens
Foi Lineu que incluiu os seres humanos no Reino animal – na Classe dos Mamíferos (a que chamou inicialmente Quadrupedia), Ordem dos Primatas (que primeiro designou como Anthropomorpha) e Género Homo, caracterizando-os pela sua capacidade de pensar e conhecer, o que deu origem ao nome específico sapiens. Foi assim que nasceu a designação binomial Homo sapiens.
O sistema binomial de Lineu ainda permanece na taxonomia
No sistema de dois nomes para a identificação de cada espécie, Lineu propôs que o primeiro seria o nome do género a que pertence e o segundo um nome específico alusivo a uma característica da espécie. Estes nomes seriam em latim, que era na altura a língua franca, usada para partilha do conhecimento.
Este sistema de duplo nome, em latim, permitiu acabar com designações extensas (por vezes com mais do que uma linha de texto) e com diferentes designações para a mesma espécie. Veio, assim, trazer ordem ao caos que existia na nomenclatura e que dificultava o entendimento nas ciências naturais, designando inequívoca e globalmente cada espécie através desta sequência de dois nomes. Uma vez aceite pela comunidade científica, este código prevalece até à atualidade.
A obra “Species Plantarum” de Carl Lineu (1753), definiu a espécie como a categoria básica de toda a taxonomia e estabeleceu que uma espécie só é reconhecida como válida depois de ter sido descrita cientificamente e divulgada numa publicação científica. Mais tarde, em 1958, uma nova regra determinou que a descrição de uma espécie tem de ser complementada com a deposição de um exemplar de referência – designado como “holótipo” – num herbário ou numa coleção pública.
Esta obra de Lineu continha a descrição de todas as plantas conhecidas até então e foi a primeira a usar esta nomenclatura binomial para cada espécie, aplicando também a classificação (arrumação) das plantas nas categorias taxonómicas fundamentais por ele definidas.
Com estas regras, Carl Lineu descreveu seis mil espécies de plantas. Muitas destas espécies, comuns na Europa, são por vezes identificadas com a letra L. (diminutivo de Linnaeus), a seguir aos seus dois nomes, em tributo a Lineu: são exemplos o medronheiro, designado, por vezes designado como Arbutus unedo L., o espinheiro-da-Virgínia, como Gleditsia triacanthos L. ou o pinheiro-manso, como Pinus pinea L.
Considera-se que a décima edição de Systema Naturae e a primeira edição de Species Plantarum constituem o ponto de partida da nomenclatura atual botânica e zoológica (também designada como sistemática). Contudo, a outra obra de Lineu, Genera plantarum, editada pela primeira vez em 1737, é vista também como ponto de partida da moderna botânica sistemática. Nela, o autor aplica o sistema de classificação anteriormente estabelecido a todos os géneros botânicos conhecidos.
O L. de Lineu pode surgir no nome das espécies que ele nomeou – taxonomia
Candolle foi quem cunhou o termo taxonomia
Apesar dos contributos que são reconhecidos a Lineu, o termo taxonomia só surgiu mais tarde, depois de Darwin introduzir os princípios da teoria da evolução. A palavra foi introduzida em 1813, pelo botânico Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) no seu livro “Théorie élémentaire de la botanique”, em que tentou determinar caracteres anatómicos que pudessem ilustrar um passado comum entre diferentes plantas.
A palavra Taxonomia deriva do grego antigo (táxis, para arranjo, organização ou ordenação e nomos que significa tornar norma ou regra) e pode ser definida de forma simples como o “a regra de organização” ou a “ciência da ordenação” dos organismos. É “o ramo da biologia que se dedica ao estudo e à descrição da variação (por exemplo, da forma) dos organismos; à investigação das causas e consequências dessa variação; e ao uso da informação obtida sobre a variação dos organismos no desenho de sistemas de classificação”, diz o botânico e agrónomo português Carlos Aguiar na obra “Sistemática das Plantas Vasculares”.
Assim, quando um taxonomista descreve uma espécie nova para a ciência está a colocá-la numa categoria dentro de um sistema de classificação, de acordo com caracteres (características) morfológicos, fisiológicos, anatómicos, químicos e moleculares, entre outros, que pretendem identificá-la a partir do modo como se diferenciou ao longo do tempo, considerando um ancestral comum. A esta identidade corresponde depois um nome científico, que segue as regras de nomenclatura binomial proposta por Lineu, identificando cada espécie de forma universal.
As regras da taxonomia para escrever o nome das plantas
A nomenclatura formal que deriva do trabalho de Lineu, também conhecida por nomenclatura biológica clássica, rege-se por uma série de normas que são revistas periodicamente por comissões de cientistas de todo o Mundo, para evitar que a um mesmo organismo sejam atribuídos nomes científicos diferentes ou que se repitam nomes em espécies diferentes.
Para garantir que cada grupo taxonómico tem um único nome reconhecido e aceite globalmente e que cada espécie é identificada de forma inequívoca, existem Códigos Internacionais de Nomenclatura. No caso da generalidade das plantas (e das algas e fungos), vigora em 2025 o Código de Shenzhen – conhecido em inglês por ICN, sigla de International Code of Nomenclature of algae, fungi and plants – cuja versão mais recente (em 2025) data de 2018.
Entre as suas normas, determina-se que:
– A nomenclatura binomial ou binária
É utilizada a nomenclatura binomial ou binária, isto significa que todas as espécies são identificadas por um nome em latim e em itálico (sublinhado em textos manuscritos), composto por duas palavras: um primeiro nome genérico que identifica o género, com a primeira letra em maiúsculas, e um segundo nome normalmente relacionado com uma característica da espécie, chamado restritivo ou epíteto específico, escrito em minúsculas. Estes nomes não precisam de ter significado. Têm apenas de ser únicos na combinação “género + restritivo específico”, de forma a identificar inequivocamente cada espécie.
O nome do género pode repetir-se noutras espécies pertencentes ao mesmo género (se existirem) e os restritivos específicos podem ser repetidos em espécies de outros géneros.
Por exemplo, a azinheira pertence ao género Quercus (a palavra latina para carvalho) e tem como restritivo o adjetivo latino rotundifolia, que significa folhas redondas, sendo designada por Quercus rotundifolia; na tília-de-folhas-pequenas, Tilia cordata, o epíteto específico “cordata” vem do latim “cordatus” numa alusão à forma das folhas que lembram um coração. O mesmo acontece com o Ginkgo biloba, em que o biloba alude ao formato das folhas, com dois lóbulos que, juntos, lembram um leque.
Taxonomia: no sistema binomial, o segundo nome pode referir uma característica da planta
Taxonomia: dois nomes em latim, a que pode seguir-se a inicial de quem nomeou a espécie
Os termos sativa, sativum e sativus, que significam cultivado ou plantado, são frequentemente encontrados nos nomes científicos de plantas domésticas ou cultivadas, como é o caso do castanheiro, de nome científico Castanea sativa, da ervilhaca-comum, chamada Vicea sativa, ou do cânhamo, Cannabis sativa. Já no caso da criptoméria, o epíteto remete para o seu local de origem, Cryptomeria japonica.
– A escrita do nome em textos especializados
A primeira vez que uma espécie é referida num texto técnico ou científico deve usar-se o seu nome completo. Depois, ao longo do texto pode usar-se a versão abreviada do género, ou seja, podemos referir a azinheira como Q. rotundifolia e o castanheiro como C. sativa.
– A identificação do autor que descreveu a espécie
Além dos dois termos que designam a espécie, o seu nome completo inclui o nome do primeiro autor que a descreveu e a nomeou, por extenso ou de forma abreviada: a forma abreviada deve ter a inicial do autor em maiúscula seguida de ponto (sem itálico ou sublinhado), virgula e ano em que a identificação da espécie foi publicada.
Assim, a azinheira nacional pode ser referida como Quercus rotundifolia Lam., 1785 – já que foi descrita e publicada pelo naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck, em 1785; o medronheiro como Arbutus unedo Linnaeus, 1753 – pois foi descrito por Carl Lineu, em 1753; e o pinheiro-bravo como Pinus pinaster Aiton, uma vez que foi descrito pelo botânico britânico William Aiton, em 1789.
Contudo, é mais habitual vermos o nome das espécies apenas com a base da nomenclatura binária: com o género e o restritivo, já que a identificação do autor é importante sobretudo em publicações botânicas, como floras, artigos científicos ou guias de campo.
A nomenclatura dos subgrupos de espécies vegetais
Embora a espécie seja a base do sistema de classificação dos seres vivos, podem existir níveis intermédios e inferiores, como os que designam subdivisões, identificados por “sub” (como subespécie) e categorias especiais, para designar, por exemplo, variedades de uma mesma espécie ou híbridos resultantes do cruzamento entre duas espécies (isto acontece não apenas ao nível da espécie, mas nas diferentes categorias taxonómicas).
A taxonomia abrange também a identificação destas subcategorias. Vejamos o caso das espécies:
Subespécies
São grupos de indivíduos (populações) de uma dada espécie que ficaram separados geograficamente e acabaram por evoluir de forma isolada, apresentando algumas diferenças face à espécie original, embora mantenham a capacidade de se reproduzir em cruzamento com ela.
Os nomes que as identificam as subespécies obedecem a um sistema trinomial, sendo acrescentado ao duplo nome da espécie um epíteto subespecífico, escrito em minúsculas e, por vezes, antecedido pela abreviatura “subsp.” ou “ssp.”. São exemplos o bidoeiro, Betula pubescens subsp. celtiberica ou o zimbro-rasteiro, Juniperus communis ssp. Alpina.
Variedades
A mesma regra, mas usando a abreviatura “var.”, aplica-se às variedades (do latim varietas), que estão também num nível taxonómico abaixo da espécie, por conseguirem reproduzir-se entre elas, partilharem muitas semelhanças, mas terem também especificidades próprias. Por exemplo, as variedades de oliveira nacionais designam-se por:
– Olea europaea var. sylvestris, conhecida pelo nome comum zambujeiro ou oliveira-brava
– Olea europaea var. europaea, a oliveira domesticada e usada para produzir azeitona.
Taxonomia vegetal: a oliveira domesticada para produzir azeite é uma variedade da espécie silvestre
Híbridos
Às plantas nascidas do cruzamento entre duas espécies distintas a taxonomia dá o nome de híbridos e consoante o tipo de cruzamento a nomenclatura é diferente:
– Quando o híbrido resulta do cruzamento de duas espécies do mesmo género, usa-se o nome do género seguido de “x” (que se lê “por”) e é criado mais um epíteto específico. Assim, o híbrido entre o carvalho português e o carvalho-negral – de nomes científicos Quercus faginea e Quercus pyrenaica – é designado por Quercus × numantina Ceballos & C.Vicioso, enquanto o híbrido que resulta do cruzamento natural entre a tília-de-folhas-pequenas e a tília-de-folhas-grandes – de nomes científicos Tilia cordata e Tilia platyphyllos – é designado por Tilia x vulgaris ou Tilia x europaea.
– Quando o cruzamento ocorre entre espécies de géneros diferentes, a designação começa por “x”, é seguida por um novo nome de género (que combina os dos géneros presentes) e por um novo restritivo. Por exemplo, × Cupressocyparis leylandii é um híbrido de Cupressus macrocarpa e Chamaecyparis nootkatensis, muito cultivado para fazer sebes densas e impenetráveis.
Cultivares
Há ainda regras específicas de nomenclatura para as espécies de plantas cultivadas – as cultivares, que são definidas per um código próprio: o Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas, conhecido pela sigla inglesa ICNCP. Este ICNCP é uma extensão do Código de Shenzhen e define cultivar como “um conjunto de plantas: a) com um carácter ou uma combinação de caracteres selecionados [pelo homem], b) que se revela distinto, uniforme e estável nesses caracteres, c) e que, quando propagado por métodos adequados, retém esses caracteres.”
Entre as regras mais relevantes da nomenclatura de cultivares, destacam-se:
- os nomes das cultivares podem ser constituídos por uma a três palavras (incluindo números);
- não são consideradas autorias na designação das cultivares;
- os epítetos são escritos em maiúsculas sem itálico, precedidos de “cv.” ou escritos entre plicas simples `´.
Por exemplo, existem duas cultivares de faia conhecidas por Fagus sylvatica cv. Asplenifolia ou Fagus sylvatica ‘Asplenifolia’ (de folha recortada) e por Fagus sylvatica cv. Pendula ou Fagus sylvatica ‘Pendula’ (de folha e ramos pendentes), que são cultivadas pelo seu interesse ornamental. Da mesma forma, uma das cultivares de oliveira mais conhecida em Portugal para obtenção de azeite e azeitona madura é a Olea europaea cv. Galega vulgar ou Olea europaea ‘Galega vulgar’.
O artigo foi publicado originalmente em Florestas.pt.